
Os imperativos do filósofo alemão Peter Sloterdijk
Viver implica transformar-se para aceder ao estatuto do sábio. É necessário um novo movimento reformador em escala global, o qual apresente uma dimensão ecológica e ética a serviço da visibilidade do planeta. Encontro-me na Milanesiana com o filósofo alemão. O humanismo confiado às “letras” – diz – está definitivamente morto. A componente “bestial” do homem está sendo domesticada usando outros meios.
A reportagem é de Marco Dotti, publicada no jornal Il Manifesto, 28-06-2009. A tradução é de Benno Dischinger.
Os livros, observa o poeta Jean Paulo, “são longas cartas que enviamos aos amigos”. Em 1999, na abertura de Regras para um parco humano, ensaio extraído de uma conferência sobre Heidegger e destinado a provocar não poucas polêmicas no contexto das reflexões sobre a bioética e a natureza humana, Peter Sloterdijk não parava de citar um dos autores que, em seu dizer, melhor encarnariam o espírito e os limites do humanismo moderno e contemporâneo, aquele humanismo baseado numa “ética do alfabeto” e um absoluto primado do livro como objeto de mediação entre o homem e sua, talvez insuprimível, “animalidade”. O que Cícero chamava de humanitas – observa o filósofo alemão – em sua essência mais não é do que uma complexa estratégia de “telecomunicação”, ou seja, a capacidade de criar “amizades à distância”, de atar e “domesticar” a espécie por intermédio da escritura.
Crítico ante este modelo de “domesticação intelectual”, estruturado sobre as noções de alfabetização, instrução, educação e escola, Peter Sloterdijk engajou uma verdadeira e própria batalha contra as escórias de um humanismo incapaz não só de coordenar-se na pós-modernidade, mas até de ler retrospectivamente as coordenadas do próprio mundo, que já se desfez irremediavelmente em frangalhos. O humanismo confiado às “letras”, glosa ainda hoje Sloterdijk, está definitivamente morto. A componente “bestial” do homem é domesticada, se não precisamente por outros fins, muito menos com outros meios. A dez anos de distância da polêmica que induziu Habermas a considerá-lo um “sujeito extremamente perigoso”, lançando-o impropriamente no banco dos imputados com a acusação de ser o fautor particularmente refinado e capcioso de um novo eugenismo – tese quando muito tola e em seu tempo argutamente desmistificada – Peter Sloterdijk retorna à questão, para ele central, da antropologia e da busca de uma dimensão não literária ou iluminista do contexto de vida. Ele o faz com um livro, publicado nas últimas semanas pela editora Surkhamp, explícito desde o título, ‘Du musst dein Leben ändern – Über Anthropotechnik’ [Tu deves mudar tua vida – sobre antropotécnica] (700 pp., 25,50 euros). Hóspede da décima edição da Milanesiana, a resenha de arte, música e ciência ideada e dirigida por Elisabetta Sgarbi, que nessa noite, às 21 horas (no Spazio Oberdan de Milão) o verá empenhado num reading junto ao regista Raúl Ruiz e a Hannhah Schygulla, Peter Sloterdijk aceitou repercorrer conosco algumas etapas do seu pensamento.
Eis a entrevista.
Em seu último livro você avança a hipótese da autoconstrução do humano, na qual as diversas atividades – sentimentos, trabalho, comunicação, mas, sobretudo ritualidade e repetições – retroagem sobre o próprio homem, modificam-no, digamos assim, e criam-no. Através de uma forma aparente de humanismo e de busca da transcendência – a religião – assistimos na realidade a uma nova prática da construção de si, que você chama de antropotécnica.
No início do meu livro falei principalmente de repetições. O ponto crítico, na história da civilização, é a meu ver representado pelo emergir de exercícios explícitos: o ser humano vive, enquanto tal, na repetição e dá forma e conteúdo à própria vida através de um ritualismo mais ou menos consciente, feito de exercícios repetitivos. A definição do ser humano, na minha acepção, não é dada pela “criatividade”, mas pela “repetitividade na criatividade”. A criatividade tomada em si mesma é uma ideologia pobre, já que o homem deve se tornar o que é, encarnando o que pode. Mas, a encarnação passa através da repetição. A palavra francesa “répétition” exprime ao mesmo tempo a repetição, o repor em cena ações que já produzimos, e o exercício que prepara uma performance, um desempenho. Pensemos numa repetição musical ou artística, fazer e repetir são termos que em francês – diversamente do que ocorre em alemão – convergem. E é exatamente sobre esta convergência que se concentra o trabalho da antropotécnica.
A antropotécnica parece, além disso, ser uma possível solução ao impasse do biopoder. Como resposta a este impasse, Michel Foucault, simplificando, retornou ao sujeito. A referência é principalmente ao segundo e terceiro volume de sua história da sexualidade, o “Uso dos prazeres” e “O cuidado de si”. Você, ao invés, escolhe “retornar ao homem”.
Biopoder é um conceito interessante, mas, no contexto em que é usado no debate atual diz bem pouco. Em sua concepção mais dura, o biopoder é o “populacionismo” e se apóia na idéia de população, própria do regime absolutista. Este aspecto escapou em grande parte a Michel Foucault e, com maior razão, escapa aos seus intérpretes tardios. Foucault se concentrou principalmente nos fenômenos da disciplina e da biopolítica da idade clássica. A meu ver, seria preciso dirigir a atenção à volta do Renascimento e do Estado moderno. É neste preciso momento que todos os grupos na posse dos “saberes” se interrogam sobre como se poderiam produzir, anular, suprimir os futuros sujeitos do Estado. A preocupação é, no entanto, a de garantir um número de sujeitos suficiente para o funcionamento da máquina. O sujeito moderno é, antes de tudo, o sujeito da superprodução “populacionista”. Ser sujeito significa, portanto, ser esperado sobre a terra por um estado que quer consumir-te em sua nova política da força.
Eu creio que este fenômeno confira um conteúdo bem mais robusto ao próprio conceito de biopolítica ou de biopoder do que todos os exemplos adotados por Foucault ou por seus sucessores. Deste ponto de vista, é considerada a diferença entre o estado que faz morrer e o estado que impõe nascer, entre a política da morte e a indiferença pela vida ou da vida e da (relativa) indiferença pela morte, entre o estado clássico que faz morrer e o moderno que “impõe” viver. Já o estado clássico “impõe”, no entanto, a vida de maneira muito mais ampla com respeito ao estado moderno que, de sua parte, tem não poucos problemas com a natalidade em constante taxa de decrescimento. No século dezenove a França é o primeiro entre os países modernos que, com o crescimento negativo da população, causou não poucas vertigens aos seus politiqueiros. Nos jornais europeus se ironizava, entre outras coisas, sobre os costumes sexuais dos franceses. No plano político isto significava sobretudo: não há mais crianças, por isso não podemos mais fazer a guerra, não há mais jovens para queimar. Este é o problema. Após o fim da Primeira guerra, ficou claro para todos que a França não tinha mais jovens para imolar em suas guerras imperialistas.
Também se impõe, na lógica da guerra, uma idéia anti-maltusiana de população...
Exatamente, mesmo que seja uma idéia que se afirma por si, nas coisas ela não é explicitada. Mas, a maior preocupação dos jovens é sempre pelas guerras por vir. Maltus não foi refutado nem no plano lógico, nem no ideológico, ele simplesmente se tornou automaticamente obsoleto. A mesma coisa sucede hoje na Itália, com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, embora seja um país católico. Em breve teremos, em todo o caso, os filhos dos imigrantes ou dos sem documento que se tornarão os verdadeiros paladinos da cultura italiana. E por certo serão “bons italianos”. Mas, ainda não se desenvolveu uma política sobre a “biomassa” estrangeira. Seria uma política dos “bárbaros”, a mesma praticada pelos romanos a partir do III ou do IV século da nossa era, quando queriam implantar o programa cultural da civilização romana na biomassa bárbara composta pelas pessoas que provinham do norte ou do sul. Mas, o Império seguia uma dupla estratégia, de grande civilização no interior e de grande barbárie no exterior.
Voltando a Foucault, nos seus últimos livros você propõe uma ética fundada na transformação de si, que, em certa medida o induz a considerar um aspecto diverso da política da vida em geral...
E é neste ponto que eu me reconecto com as suas pesquisas e também com os estudos de Pierre Hadot sobre os exercícios e a prática de si, e também ao pensamento do pedagogo e filósofo Paulo Rabbow, que havia estudado o mesmo fenômeno. São autores que estudei muito de perto para escrever o meu novo livro sobre antropotécnicas, no qual demonstro como os homens já são o resultado de exercícios que praticam sem sabê-lo. “No início”, como dizia Henri Michaux, “era a repetição”.
A estas técnicas de transformação do sujeito, postas em jogo pelo próprio sujeito, se pode associar uma preocupação de tipo ético?
Há aproximadamente três mil anos, as civilizações mais avançadas viviam numa espécie de stress moral de ordem completamente nova. Houve um tempo em que era possível observar novas epifanias, de cunho ético. Creio que a filosofia como disciplina da velha Europa, ou como era concebida na Ásia Menor, em Atenas e nas costas da futura Turquia, foi uma nova epifania do logos. E o logos não é somente uma instância epistêmica, mas antes de tudo ética. Precisamente Pierre Hadot, por exemplo, cujo pensamento influenciou muito Foucault, nos pôs em guarda contra conceber a filosofia em sua acepção cognitivista. A filosofia antiga não colocava o acento na racionalidade do mundo, mas na necessidade de conduzir uma vida regulada segundo prescrições cósmicas do ser: sua preocupação era acima de tudo ética. Na China, como na Índia, no antigo pensamento persa ou entre os profetas de Israel, bem como na Grécia, a grande preocupação ética, o cuidado, convulsionou a vida dos homens.
Para designar este grupo de epifanias éticas, escolhi reformular um imperativo absoluto, a partir deste título e máxima: tu deves mudar tua vida, ‘Du musst dein Leben ändern’. Não é o imperativo categórico de Kant que entra por um ouvido e sai pelo outro, sem deixar sinais na personalidade de quem o escutou. O imperativo que eu proponho é, ao contrário, um imperativo transformador: os seres humanos sensíveis ao seu apelo deveriam começar a trabalhar sobre si mesmos. Viver é preparar-se, transformar-se, aceder ao estatuto do sábio, responder à tensão vertical que impõe modificar a própria existência. Também em resposta a esta tensão vertical, o meu trabalho se sintetiza na reformulação do imperativo numa forma consoante aos nossos tempos. Um imperativo que incita a fazer que o princípio que “move as tuas ações e o resultado das tuas ações” sejam ambos compatíveis com as exigências do nosso saber ecológico e cosmopolita. O último horizonte, no qual se inscreve este projeto, é o de um novo movimento reformador em escala global, que apresente uma nova dimensão ecológica e ética a serviço da viabilidade de vida do planeta. É esta a perspectiva que considero necessária.
Passagens de vida e principais obras
Peter Sloterdijk nasceu em 1947 em Karlsruhe, cidade na qual ainda reside e onde ensina filosofia e técnica da mídia e dirige na qualidade de Reitor a Staatliche Hochschule für Gestaltung [Escola Estatal Superior para Formação]. Sua “Crítica da razão cínica”, publicada em 1980 e parcialmente traduzida ao italiano para as edições Garzanti, o assinalou subitamente como um dos mais interessados autores da geração formada na teoria crítica, mas destinados, de certo modo, a superá-la. É ambicioso o projeto de ‘Sphären’ [Esferas], uma trilogia que reflete sobre a forma e a estrutura do mundo. O primeiro volume foi recentemente traduzido por Meltemi (“Sfere I, Bolle”, 575 pp., 34 euros).
Sempre em Meltemi, há um catálogo: “Terror no ar”, “O mundo dentro do capital” e “Ira e tempo”, enquanto em Bompiani saiu a coletânea de ensaios “Ainda não fomos salvos” [Non siamo ancora stati salvati] (2004) e Cortina publicou há pouco “O furor de Deus” [Il furore di Dio] (162 pp. 18,50 euros). De notável interesse são, no entanto, também três livros-entrevista, ainda não traduzidos ao italiano: “Les battements du monde” [Os batimentos do mundo] (Fayard, 2003), com Alain Filkielkraut, e “Die Sonne und der Tod” [O sol e a morte] (Surkhamp, 2001), com Hans-Jürgen Heinrich.
Viver implica transformar-se para aceder ao estatuto do sábio. É necessário um novo movimento reformador em escala global, o qual apresente uma dimensão ecológica e ética a serviço da visibilidade do planeta. Encontro-me na Milanesiana com o filósofo alemão. O humanismo confiado às “letras” – diz – está definitivamente morto. A componente “bestial” do homem está sendo domesticada usando outros meios.
A reportagem é de Marco Dotti, publicada no jornal Il Manifesto, 28-06-2009. A tradução é de Benno Dischinger.
Os livros, observa o poeta Jean Paulo, “são longas cartas que enviamos aos amigos”. Em 1999, na abertura de Regras para um parco humano, ensaio extraído de uma conferência sobre Heidegger e destinado a provocar não poucas polêmicas no contexto das reflexões sobre a bioética e a natureza humana, Peter Sloterdijk não parava de citar um dos autores que, em seu dizer, melhor encarnariam o espírito e os limites do humanismo moderno e contemporâneo, aquele humanismo baseado numa “ética do alfabeto” e um absoluto primado do livro como objeto de mediação entre o homem e sua, talvez insuprimível, “animalidade”. O que Cícero chamava de humanitas – observa o filósofo alemão – em sua essência mais não é do que uma complexa estratégia de “telecomunicação”, ou seja, a capacidade de criar “amizades à distância”, de atar e “domesticar” a espécie por intermédio da escritura.
Crítico ante este modelo de “domesticação intelectual”, estruturado sobre as noções de alfabetização, instrução, educação e escola, Peter Sloterdijk engajou uma verdadeira e própria batalha contra as escórias de um humanismo incapaz não só de coordenar-se na pós-modernidade, mas até de ler retrospectivamente as coordenadas do próprio mundo, que já se desfez irremediavelmente em frangalhos. O humanismo confiado às “letras”, glosa ainda hoje Sloterdijk, está definitivamente morto. A componente “bestial” do homem é domesticada, se não precisamente por outros fins, muito menos com outros meios. A dez anos de distância da polêmica que induziu Habermas a considerá-lo um “sujeito extremamente perigoso”, lançando-o impropriamente no banco dos imputados com a acusação de ser o fautor particularmente refinado e capcioso de um novo eugenismo – tese quando muito tola e em seu tempo argutamente desmistificada – Peter Sloterdijk retorna à questão, para ele central, da antropologia e da busca de uma dimensão não literária ou iluminista do contexto de vida. Ele o faz com um livro, publicado nas últimas semanas pela editora Surkhamp, explícito desde o título, ‘Du musst dein Leben ändern – Über Anthropotechnik’ [Tu deves mudar tua vida – sobre antropotécnica] (700 pp., 25,50 euros). Hóspede da décima edição da Milanesiana, a resenha de arte, música e ciência ideada e dirigida por Elisabetta Sgarbi, que nessa noite, às 21 horas (no Spazio Oberdan de Milão) o verá empenhado num reading junto ao regista Raúl Ruiz e a Hannhah Schygulla, Peter Sloterdijk aceitou repercorrer conosco algumas etapas do seu pensamento.
Eis a entrevista.
Em seu último livro você avança a hipótese da autoconstrução do humano, na qual as diversas atividades – sentimentos, trabalho, comunicação, mas, sobretudo ritualidade e repetições – retroagem sobre o próprio homem, modificam-no, digamos assim, e criam-no. Através de uma forma aparente de humanismo e de busca da transcendência – a religião – assistimos na realidade a uma nova prática da construção de si, que você chama de antropotécnica.
No início do meu livro falei principalmente de repetições. O ponto crítico, na história da civilização, é a meu ver representado pelo emergir de exercícios explícitos: o ser humano vive, enquanto tal, na repetição e dá forma e conteúdo à própria vida através de um ritualismo mais ou menos consciente, feito de exercícios repetitivos. A definição do ser humano, na minha acepção, não é dada pela “criatividade”, mas pela “repetitividade na criatividade”. A criatividade tomada em si mesma é uma ideologia pobre, já que o homem deve se tornar o que é, encarnando o que pode. Mas, a encarnação passa através da repetição. A palavra francesa “répétition” exprime ao mesmo tempo a repetição, o repor em cena ações que já produzimos, e o exercício que prepara uma performance, um desempenho. Pensemos numa repetição musical ou artística, fazer e repetir são termos que em francês – diversamente do que ocorre em alemão – convergem. E é exatamente sobre esta convergência que se concentra o trabalho da antropotécnica.
A antropotécnica parece, além disso, ser uma possível solução ao impasse do biopoder. Como resposta a este impasse, Michel Foucault, simplificando, retornou ao sujeito. A referência é principalmente ao segundo e terceiro volume de sua história da sexualidade, o “Uso dos prazeres” e “O cuidado de si”. Você, ao invés, escolhe “retornar ao homem”.
Biopoder é um conceito interessante, mas, no contexto em que é usado no debate atual diz bem pouco. Em sua concepção mais dura, o biopoder é o “populacionismo” e se apóia na idéia de população, própria do regime absolutista. Este aspecto escapou em grande parte a Michel Foucault e, com maior razão, escapa aos seus intérpretes tardios. Foucault se concentrou principalmente nos fenômenos da disciplina e da biopolítica da idade clássica. A meu ver, seria preciso dirigir a atenção à volta do Renascimento e do Estado moderno. É neste preciso momento que todos os grupos na posse dos “saberes” se interrogam sobre como se poderiam produzir, anular, suprimir os futuros sujeitos do Estado. A preocupação é, no entanto, a de garantir um número de sujeitos suficiente para o funcionamento da máquina. O sujeito moderno é, antes de tudo, o sujeito da superprodução “populacionista”. Ser sujeito significa, portanto, ser esperado sobre a terra por um estado que quer consumir-te em sua nova política da força.
Eu creio que este fenômeno confira um conteúdo bem mais robusto ao próprio conceito de biopolítica ou de biopoder do que todos os exemplos adotados por Foucault ou por seus sucessores. Deste ponto de vista, é considerada a diferença entre o estado que faz morrer e o estado que impõe nascer, entre a política da morte e a indiferença pela vida ou da vida e da (relativa) indiferença pela morte, entre o estado clássico que faz morrer e o moderno que “impõe” viver. Já o estado clássico “impõe”, no entanto, a vida de maneira muito mais ampla com respeito ao estado moderno que, de sua parte, tem não poucos problemas com a natalidade em constante taxa de decrescimento. No século dezenove a França é o primeiro entre os países modernos que, com o crescimento negativo da população, causou não poucas vertigens aos seus politiqueiros. Nos jornais europeus se ironizava, entre outras coisas, sobre os costumes sexuais dos franceses. No plano político isto significava sobretudo: não há mais crianças, por isso não podemos mais fazer a guerra, não há mais jovens para queimar. Este é o problema. Após o fim da Primeira guerra, ficou claro para todos que a França não tinha mais jovens para imolar em suas guerras imperialistas.
Também se impõe, na lógica da guerra, uma idéia anti-maltusiana de população...
Exatamente, mesmo que seja uma idéia que se afirma por si, nas coisas ela não é explicitada. Mas, a maior preocupação dos jovens é sempre pelas guerras por vir. Maltus não foi refutado nem no plano lógico, nem no ideológico, ele simplesmente se tornou automaticamente obsoleto. A mesma coisa sucede hoje na Itália, com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, embora seja um país católico. Em breve teremos, em todo o caso, os filhos dos imigrantes ou dos sem documento que se tornarão os verdadeiros paladinos da cultura italiana. E por certo serão “bons italianos”. Mas, ainda não se desenvolveu uma política sobre a “biomassa” estrangeira. Seria uma política dos “bárbaros”, a mesma praticada pelos romanos a partir do III ou do IV século da nossa era, quando queriam implantar o programa cultural da civilização romana na biomassa bárbara composta pelas pessoas que provinham do norte ou do sul. Mas, o Império seguia uma dupla estratégia, de grande civilização no interior e de grande barbárie no exterior.
Voltando a Foucault, nos seus últimos livros você propõe uma ética fundada na transformação de si, que, em certa medida o induz a considerar um aspecto diverso da política da vida em geral...
E é neste ponto que eu me reconecto com as suas pesquisas e também com os estudos de Pierre Hadot sobre os exercícios e a prática de si, e também ao pensamento do pedagogo e filósofo Paulo Rabbow, que havia estudado o mesmo fenômeno. São autores que estudei muito de perto para escrever o meu novo livro sobre antropotécnicas, no qual demonstro como os homens já são o resultado de exercícios que praticam sem sabê-lo. “No início”, como dizia Henri Michaux, “era a repetição”.
A estas técnicas de transformação do sujeito, postas em jogo pelo próprio sujeito, se pode associar uma preocupação de tipo ético?
Há aproximadamente três mil anos, as civilizações mais avançadas viviam numa espécie de stress moral de ordem completamente nova. Houve um tempo em que era possível observar novas epifanias, de cunho ético. Creio que a filosofia como disciplina da velha Europa, ou como era concebida na Ásia Menor, em Atenas e nas costas da futura Turquia, foi uma nova epifania do logos. E o logos não é somente uma instância epistêmica, mas antes de tudo ética. Precisamente Pierre Hadot, por exemplo, cujo pensamento influenciou muito Foucault, nos pôs em guarda contra conceber a filosofia em sua acepção cognitivista. A filosofia antiga não colocava o acento na racionalidade do mundo, mas na necessidade de conduzir uma vida regulada segundo prescrições cósmicas do ser: sua preocupação era acima de tudo ética. Na China, como na Índia, no antigo pensamento persa ou entre os profetas de Israel, bem como na Grécia, a grande preocupação ética, o cuidado, convulsionou a vida dos homens.
Para designar este grupo de epifanias éticas, escolhi reformular um imperativo absoluto, a partir deste título e máxima: tu deves mudar tua vida, ‘Du musst dein Leben ändern’. Não é o imperativo categórico de Kant que entra por um ouvido e sai pelo outro, sem deixar sinais na personalidade de quem o escutou. O imperativo que eu proponho é, ao contrário, um imperativo transformador: os seres humanos sensíveis ao seu apelo deveriam começar a trabalhar sobre si mesmos. Viver é preparar-se, transformar-se, aceder ao estatuto do sábio, responder à tensão vertical que impõe modificar a própria existência. Também em resposta a esta tensão vertical, o meu trabalho se sintetiza na reformulação do imperativo numa forma consoante aos nossos tempos. Um imperativo que incita a fazer que o princípio que “move as tuas ações e o resultado das tuas ações” sejam ambos compatíveis com as exigências do nosso saber ecológico e cosmopolita. O último horizonte, no qual se inscreve este projeto, é o de um novo movimento reformador em escala global, que apresente uma nova dimensão ecológica e ética a serviço da viabilidade de vida do planeta. É esta a perspectiva que considero necessária.
Passagens de vida e principais obras
Peter Sloterdijk nasceu em 1947 em Karlsruhe, cidade na qual ainda reside e onde ensina filosofia e técnica da mídia e dirige na qualidade de Reitor a Staatliche Hochschule für Gestaltung [Escola Estatal Superior para Formação]. Sua “Crítica da razão cínica”, publicada em 1980 e parcialmente traduzida ao italiano para as edições Garzanti, o assinalou subitamente como um dos mais interessados autores da geração formada na teoria crítica, mas destinados, de certo modo, a superá-la. É ambicioso o projeto de ‘Sphären’ [Esferas], uma trilogia que reflete sobre a forma e a estrutura do mundo. O primeiro volume foi recentemente traduzido por Meltemi (“Sfere I, Bolle”, 575 pp., 34 euros).
Sempre em Meltemi, há um catálogo: “Terror no ar”, “O mundo dentro do capital” e “Ira e tempo”, enquanto em Bompiani saiu a coletânea de ensaios “Ainda não fomos salvos” [Non siamo ancora stati salvati] (2004) e Cortina publicou há pouco “O furor de Deus” [Il furore di Dio] (162 pp. 18,50 euros). De notável interesse são, no entanto, também três livros-entrevista, ainda não traduzidos ao italiano: “Les battements du monde” [Os batimentos do mundo] (Fayard, 2003), com Alain Filkielkraut, e “Die Sonne und der Tod” [O sol e a morte] (Surkhamp, 2001), com Hans-Jürgen Heinrich.









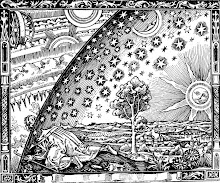

























































Nenhum comentário:
Postar um comentário